
[TEXTOS ABSOLUTAMENTE RANDÔMICOS]
ESTUDO DE VALOR E ECONOMIA DE LINHAS
Encaro uma página repleta de orelhas. Sei que, entre os que não se abismam pela arte de olhar tanto quanto seres como eu, sou uma das únicas ignorantes que se entretém em entender as curvas de uma apófise mastóidea, e se absorve em traduzir num traço a concretude do recuo delicado que curva as orelhas e as faz feito pétala grossa de uma flor exótica, atravessada em sua carne pela vida e pela morte de si própria. Atravesso as pétalas com meu caminho à morte, à grafite, à carvão, à nanquim.
Ao lado da página de orelhas está uma página de olhos e sobrancelhas, córneas, cristalinos, tendões, canais, nervos ópticos, em seguida uma página de bocas, e uma página de pés, e uma página de ossadas, de cadáveres, cabeças, mãos, tendões, músculos. É com certo gozo e morbidez que eu desenho cada membro decepado de um corpo, é com eufórica e impaciente dúvida de mim que eu passo horas no cuidado e no afeto de enclausurar seres em folhas de papel. Gotejo uma violência morosa sobre cada traço, num exaspero contido de revelar qualquer coisa.
Os humanos têm boca, nariz e olhos. A cabeça é oval e protege em si vísceras imensas… O óbvio me atrai. Não posso contar quantas vezes desenhei olhos humanos em minha vida. Para mim cada olho é um, cada olho é diferente, cada vez é a primeira vez que contemplo um olho, embora pareçam sempre os mesmos para quem eu observo. A página de olhos impressos me faz sentir saudades de andar de ônibus, de metrô, de sentar na guia da calçada para usurpar faces, mãos cruzadas sobre bolsas, mãos tensionadas em volta de barras de aço, pés curvados, pés indecisos, joelhos inquietos, olhares de dúvida, olhares de suspeita. As pessoas se retraem contra o roubo de seus olhos, suspeitam, desconfiam. Os olhares que capto ou são sempre inadvertidos, cansados, ou cheios de franzimentos, contragostos, medo. Não sei o que temem, minha invasão distante parece ser violenta, mesmo que sutil. É em vão que tento me esconder dos olhares que desenho… Devo aceitar que estou lhes roubando, e uma estima cabreira, assombrada, é tudo que terei. Algumas vezes as pessoas se lisonjeiam, e vem perguntar conclusões.
Estava desenhando agora estou escrevendo agora porque preciso me defender, porque a humilhação me atrai, porque inevitavelmente caminho para o que me aflige. Escrevo sob o ícone esdrúxulo de bichos-da-seda imaginários. Penso naqueles casulos oníricos.
Escrevo sob a interrogação de por que o dedinho do pé não entra em conformidade com outros dedos do pé, está sempre um pouquinho de lado. Sob me perder em insetos, me preocupar com raízes, de me instaurar em copos, de me afligir com garrafas de vidro, de me enraivecer em pulmões. Meu tempo é contaminado de coisas faladeiras, e eu também. Numa linha estou convencida de minha igualdade com o solo. Economizo a tinta fingindo tranquilidade, mas isso não me transporta, preciso do embaraço das hachuras, da sujeira ingrata do nanquim. A profusão me manifesta.
Eu ainda preciso defender meu tempo. Minha beligerância me esgota. Eu me defendo dos olhos que desenho, pois não é suspeita que me dirigem, é um vazio que me consome. Suspeita sou eu quem contribui a florescer: eu suspeito de que os olhos me creiam inútil e alienada das preocupações mundanas. Me dói vergonha defender meu ato de observar e roubar, estou ciente das necessidades que não são as minhas. Estou ciente do olhar desapontado de meu antigo professor de exatas ao me perguntar meu curso de graduação e ao ouvir minha resposta: artes. Seus olhos: desperdício. Minha boca: uma linha contraída numa economia de gesto. Sua boca: rasgo largo que relata a vitória de outros alunos.
A dúvida me ofende, devo me defender do remorso que esperam que eu tenha. Mas tem dias eu falho na violência contra mim e o mundo, e me permito ser apunhalada da violência comum: meu tempo não vale, meu trabalho não vale, é preciso se redimir no arrependimento sagrado cotidiano. É preciso sacrifícios. Trabalho em graça. Grátis.
Esses dias são os piores porque deixo de me importar com as plantas, com as raízes, com as orelhas, os copos… Esses dias deixo de ser eu para ser um grumo de ódio, e o noticiário me alimenta em estupidez vazia.
Quando não sou eu própria, toda informação que me contrapõe é um assomo de angústia. Leva um tempo até que as coisas me consumam novamente e me devolvam minhas ignorâncias amorosas. Que me devolvam o apaziguamento de não ser nada, de não procurar ser ninguém e com isso ser eu própria em todo meu subterrâneo que se perde em páginas repletas de mãos, de pés, de cabeças, orelhas, olhos, narizes. Estou em ser nada. Estou em recusar vitórias. Estou na coexistência de minha pobreza com a teimosia livre de meu desejo. Estou em me opor a produtividade impermeável. Estou feliz em me perder em bichos-da-seda e me reconhecer entre eles.
Estou em observar as coisas, ondular meus dedos, examinar minha pele composta de minúsculos quadradinhos e hachuras anárquicas que ressecam e se hidratam e se marcam sobre mim e assim será até minha morte quando cada vez mais, com sorte, as hachuras forem ficando mais e mais profusas, como são em meus desenhos.
Estou em tentar adivinhar o pensamento das plantas, das coisas, em tentar reduzir as palavras de minha cabeça pra captar frequências sonoras visuais extracorpóreas que adensem uma exclamação que não vem de mim. Estou em sonhar contatos extraordinários, estou em apurar a audição para depurar a realidade até sua última gota de sumo sujo cheio de carbono e buzinas e espirros.
Estou em me perder em olhos impressos sobre os meus, e me orgulhar disso sem qualquer vergonha de dispor meu tempo às texturas do mundo.
Estou quieta povoada dessas palavras ansiosas cheias de conclusões e andanças, essas palavras minhas ou não, vindas de qualquer lugar que me consta. Ainda assim a arte é para mim um grito de criança, um grito risonho que entra pela janela embaçada e que não consigo entender por estar absorta na escuta. Chega-me o som, só. Eu o recebo. Mas a palavra se perdeu sobre o ar e chega sem contornos, fosca. Perdeu-se sobre o eco dos muros, sobre a janela aberta, sobre a apófise mastóidea, sobre a curva de minha orelha. Estou neste desentendimento, e por isso, numa economia de linha, sorrio.

————
Reflexão fragmentária sobre profanação e arte
[01] A profanação, tal qual o ato de brincar, quebra a unidade do sagrado (ludus, jogo do corpo, separando o rito do mito, e iocus, jogo dos conceitos, separando mito do rito). A profanação torna comum o transcendental. É o fogo roubado por Prometeus, em seu sacrílego atentado contra aquilo que estabeleceu o fogo como propriedade dos Deuses. O profano retira tudo aquilo que foi subtraído do uso comum (portanto sagrado), expropria-o, e o devolve à res pública. O profano, para todos os efeitos, democratiza o sagrado.
[02] Capturar, esterilizar, limpar, colecionar, dispor em ordem, eternizar coisas não em vida, mas em morte, são atos entendidos como atos de profanação. Retiram-se plantas, conchas, pedrinhas de seu ambiente, para depositá-los em um aquário, em um mostruário, em vitrines etc. Assim não trocam mais fluidos com o ambiente, o observador de fora do vidro ou da caixa pode ver, mas não ouvir ou sentir o que está dentro. A captura desenfeitiça o que é capturado, extrai sua essência e o transforma em imagem circunscrita em um contexto de deslocamento. Tudo vira carcaça. Carcaça estética.
[03] A arte, em sua deglutição do mundo, desenfeitiça, enfeitiça, desenfeitiça, enfeitiça os objetos, ora abolindo a distância entrópica e hierárquica que há entre os poderes, ora a reabsorvendo em seu seio, restaurando-a. Tudo tende ao caos, afinal, mas a existência é um pêndulo excêntrico, ao que parece. A arte enquanto cultura produz ordem, portanto, tal como a religião, é uma ferramenta perfeita para estabelecer diferenças e separações entre pessoas e/ou grupos sociais, diferenças essas que são logo legitimadas e plasmolisadas nos indivíduos pelas eticidades que as concernem e as orbitam.
[04] “É preciso furar a madeira onde é mais grossa”*
[05] “A profanação é, portanto, a ação fundadora dos aquários e das teias de aranhas. E também dos museus. Provém daí as semelhanças entre museus, cadeias, bibliotecas, cemitérios, zoológicos, arquivos e criptas: são todos quietos, extraordinários e classificados.”*
[06] No parque Ibirapuera, funcionários varrendo a grama, pondo folhas secas em sacos plásticos. No museu, utensílios iguais aos utilizados por eles estão pendurados na parede imaculada, ainda intocados, compondo a obra “Expediente”, 1978, de Paulo Bruscky. Enquanto alguns visitantes encaram uma cadeira vazia, na qual o segurança costuma se sentar, e tecem comentários sobre o objeto. 15 minutos de fama para a cadeira, até alguém lhes avisar que aquilo é somente uma cadeira comum.
[07] Profanare, em latim, é um verbo paradoxalmente dúplice, significando tanto, propriamente, “tornar profano”, como também “sacrificar”, em raros casos. Assim também o é o adjetivo “sacer”, que aponta uma dualidade entre “augusto, consagrado aos deuses” e “maldito, separado da comunidade”.
[08] Profanar é sacrificar, sagrado é maldito.
[09] Seria a crítica -mediadora- da arte um ato sacrificial? Qual órgão do fibroso corpo da arte é destinado ao sacrifício?
[10] “Um bastão é um galho desterritorializado”.*
[11] O sacrifício é aquilo que é necessário para restituir e restaurar, por meio do rito, a separação mítica entre a esfera comum e a esfera sagrada. Contudo, de modo ambíguo, é tanto aquilo que eterniza as diferenças, como aquilo que as supera. É necessário sacrifício para mudança. É um oroboros. Cabeça profana calda sagrada cabeça sagrada calda profana.
[12]“(…) o irônico é uma vítima exigida como sacrifício pelo desenvolvimento do mundo; não que o irônico sempre precise cair como uma vítima, no sentido estrito, mas sim porque o zelo no serviço do espírito do mundo o devora”.*
[13] “O termo religio, segundo uma etimologia ao mesmo tempo insípida e inexata, não deriva de religare (o que liga e une o humano e o divino), mas de relegere, que indica a atitude de escrúpulo e de atenção que deve caracterizar as relações com os deuses, a inquieta hesitação (o “reler”) perante as formas — e as fórmulas — que se devem observar a fim de respeitar a separação entre o sagrado e o profano.”*
[14] A reivindicação de autonomia, ou a posse de si, de toda ordem, é um ato de profanação, contradizendo uma alienação primordial, a alienação da alma e do corpo, a separação sagrada pregada por diversas crenças – nosso corpo não é nosso, nossa alma é um bem. Ademais, evoca o desvio para o eu, que é entendido como demoníaco,aquele oráculo socrático que, subjetivo, flutua entre determinação externa e inconsciente. O demônio da subjetividade, portanto. Demoníaco é se voltar para si como se fosse a um outro, ironicamente (de modo irônico, negativamente livre). Talvez por isso falar sozinho em público é algo que pega mal.
[13] A arte abstrata enseja um território autônomo da arte, refutando o aspecto documental que a pintura costumava ter. O fruidor está livre -em comparação com as pinturas figurativas- para brincar em sua imaginação e entendimento com as imagens que lhe acometerem, que o assombrarem. As formas em uma abstração informal são assombrosamente espectrais. Essência pulsa na imagem, livre, sem estar contida em seu invólucro real, dêitico, nominal, significativo. Opera aperta. O fantasma da forma espelha o inconsciente, demoníaco. Mário Pedrosa argumentava que toda boa pintura é de ordem abstrata (divergindo, diga-se de passagem, de Mário de Andrade).
[14] Entende-se que o sucesso das vanguardas foi o que gerou sua crise. O público passou a aguardar a vanguarda. A ruptura era esperada. O espectador já sabia de antemão as falas da peça. O programa da vanguarda sugeria uma permanente revolução da arte, sucessiva superação, e dessa forma, transformou-se no oposto do que ansiava, era previsível, e, ademais, continuou a possibilitar a sacralização da arte, no sentido de estabelecer e perpetuar poderes simbólicos das classes dominantes, assegurando a estratificação social. Não é exagero dizer que as vanguardas, especialmente dadaísmo e surrealismo, sinalizaram o fim da arte moderna, ao propor a superação da arte. Afinal, a arte sempre foi costumeiramente entendida como imagem de um acontecimento enquadrado adequadamente na história “universal”, isso sobreviveu, capengando, até meados do século XX. O debate acerca das vanguardas potencializou-se na década de 1960, com a ascensão da arte conceitual, os objetos cotidianos do mundo sendo encenados, performados, de um jeito inédito. O ouroboros voraz do profano-sacro devora em ritornelos também o fazer artístico, profana-se o museu trazendo para seu interior objetos comuns apropriados, profanam-se também os objetos, por terem sido retirados de seu lugar. Todo deslocamento evoca então profanação e sacralização. Os sacrifícios se proliferam bradando por mudança. O mictório de Duchamp é sacrificial? De todo modo, opera de modo lúdico, profanando o código artístico-museal, tornando sagrado o objeto comum. Por ventura será necessário se profanar o profano, hackear o mictório. “Duchamp vs Vasarely”, 1975, Júlio Plaza, quando a apropriação é profanação, se opera em favor da sacralização? As escamas do ouroboros são refratárias.
[15] Fato interessante: a palavra “moderno” foi criada pelo Papa Gelásio I, no século V, para descrever a “aceleração para o fim do mundo”.
[15] Deslocamentos superficiais, apropriações esvaziantes e relações estéticas de oposição são tão queridas ao sistema capitalista porque traduzem seu mecanismo de sobrevivência (de retroalimentação), um mecanismo que engoliu para si a essência da religiosidade, mais especificamente a do cristianismo. Tudo é culto. A vida capitalista é um culto constante. A diferença é que não há expiação do pecado, mas culpabilização do pecado. A religião do capitalismo é culpa, falsa superação da culpa, e reabsorção da culpa. A pluralidade profusa e colorida do consumo é vendida como diversidade, representatividade, liberdade, etc. A plasmação do ético da religiosidade capitalista se dá através da propaganda e da sugestão. Aliás, assim como as religiões, também alienam o indivíduo de seu corpo e vontade (por meio da culpa).
[16] Ao que parece, como indicado por inúmeras séries de tv distópicas e anti-sistema, toda tentativa de profanar o sistema financeiro e a lógica vigentes operam de forma a os fortalecerem. Porque viram piada. “Isso é muito black mirror”. Na verdade, tudo, hoje, é chiste de péssima qualidade, ironia deformadora e piada. Risos nervosos.
[17] Um taco de beisebol é um galho desterritorializado.
[18] “O comerciante compra num território, mas desterritorializa os produtos em mercadorias, e se reterritorializa sobre os circuitos comerciais. No capitalismo, o capital ou a propriedade se desterritorializam, cessam de ser fundiários e se reterritorializam sobre meios de produção, ao passo que o trabalho, por sua vez, se torna trabalho “abstrato” reterritorializado no salário”*. Os personagens conceituais/tipos psicossociais (o capitalista, o proletário, o outsider, o estrangeiro, o imigrante, o autóctone, o excluído, o pródigo, etc) evidenciam esses processos de formação de território. As formações de território modificam não só o espaço, mas as relações com o espaço, as relações interpessoais, as figuras de autoridade, por isso também provocam as chamadas “crises de tradição”.
[19] Com a arte conceitual, a distância entre obra de arte e comentário sobre arte foi abolida. A arte é conceito.
[20] Dificilmente alguma estetização de profanação ou alguma descontextualização choca ou escandaliza alguém pois o estado natural das coisas parece ser a descontextualização, a impermanência, a profanação/sacralização sistemática.
“[431]”Ofereça sacrifícios às Graças” significa, quando se diz isso a um filósofo: “Busque a ironia e cultive-se para a urbanidade”*
______________________________________________________________________
*”O Dialeto dos fragmentos”, Schelegel. São Paulo, SP: Editora Iluminuras, 1997. Página 22.
*”A criança, o museu, o curador e o artista”, Fernando C. Boppré . Net Processo, Florianópolis, 2007. Página 1.
*”Sobre filosofia”, Deleuze e Guattari. São Paulo, SP: Editora 34, 2010. Página 82.
*”O conceito de ironia constantemente referido a Sócrates”, Kierkegaard. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013. Página 262.
*”Elogio da Profanação”, Giorgio Agamben. Disponível em http://v3.ellieharrison.com/money/profanations.pdf
*”Sobre filosofia”, Deleuze e Guattari. São Paulo, SP: Editora 34, 2010. Página 82.
*”O Dialeto dos fragmentos”, Schelegel. São Paulo, SP: Editora Iluminuras, 1997. Página 138.
**”O fim da história da arte”, Hans Belting. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2006.
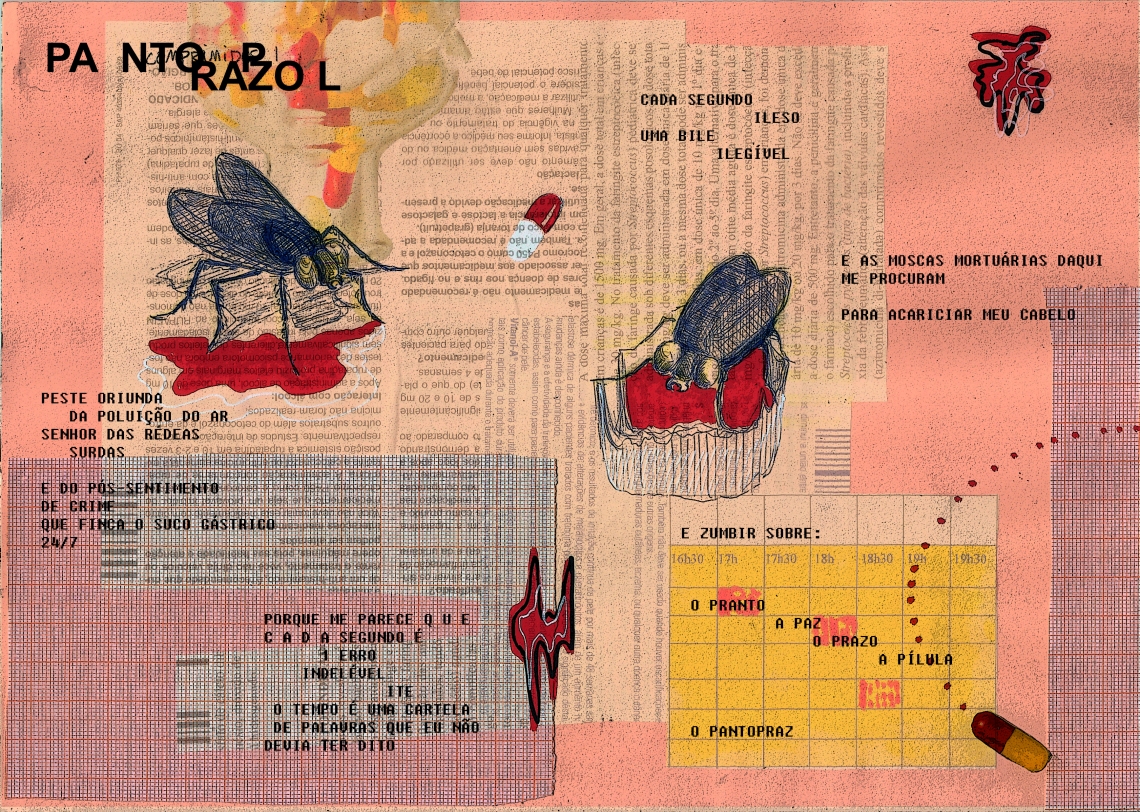
[chão sob os pés, pés sobre o chão]
Este é um texto livre, não-formal.
Devo dizer, antes de discorrer sobre os artistas escolhidos, que meu interesse era abordar o espaço e as relações do corpo com o espaço a fim de tecer uma costura entre os trabalhos d’s artistes escolhidos, dando enfoque nas derivas, deslocamentos e desterritorializações ou ressignificações que o trânsito de símbolos suscitam (símbolos estes a priori atrelados à lugares específicos que atribuem significados à eles). Exemplo: a obra “Expediente”, de Paulo Bruscky, que desloca ambientes de escritório (setores administrativos de uma instituição cultural) para inseri-los no meio de uma mostra de arte, expondo um fragmento orgânico do interior de um museu. Ou, de certo modo, a obra “Café Educativo”, do artista Jorge Menna Barreto, que propõe um espaço de decantação dos corpos, arquitetando um lugar para repouso nas exposições de arte (geralmente situações de “peregrinação” ou de movimentação constante) em que se insere.
Ademais, para melhor situar esse meu interesse nos mencionados trânsitos, e explicar de onde vem, acho relevante dizer que um dos projetos que desenvolvo em artes visuais dialoga com a apropriação de imagens e com o processo de realocar imagens de situações específicas, “reenvasando-as” em outros contextos. No caso, as imagens que uso são prints e fragmentos de vídeos de vigilância de câmeras que foram hackeadas e que estão espalhadas pelo mundo.
Por isso me interesso nestes processos que fazem inflexões e tensões entre ambientes diversos, ambientes estes que, muitas vezes, estão embrutecidos (ou melhor, embrutecendo), com seus significados rígidos, congelados em uma só e imóvel significância e simbologia.
Enfim, vamos as(aos) artistas e a seus respectivos textos. Eu escolhi relatar minhas percepções acerca de seguintes artistas: Coletivo Mão na Lata e Grupo Santa Helena; Letícia Parente e Geraldo de Barros; Jaime Lauriano e Hélio Oiticica
Ao imaginar esse trabalho, eu inicialmente havia pensado em três artistas: Rosana Paulino, Cildo Meireles e Antonio Dias. A princípio por conta do meu gosto, são artistas cujos os trabalhos, processos e reflexões me agradam, mas depois me surgiu um desejo de encaixá-los no presente trabalho de modo que eu exercitasse um argumento que os conectasse, seja esteticamente, seja tematicamente. No processo de incubação da ideia, deparei-me com a dificuldade de selecionar apenas três artistas, e entrei n’uma espiral de visualizações curatoriais, imaginando uma exposição real com os artistas abordados no texto como integrantes. Depois de um longo tempo de reflexão, selecionei os mencionados nomes.
Coletivo Mão na lata // Grupo Santa Helena
O corpo que engole a paisagem, a paisagem que se torna corpo

Escolhi analisar os pontos de contato entre a produção desses dois núcleos criativos não porque ambos são gregários, compostos de vários artistas, embora este seja um pensamento inevitável. Analiso-os e os coloco aqui, juntos, pois identifico uma semelhança no ideário que equipa um olhar direcionado às coisas cotidianas e de um entorno próximo aos autores das obras. Há algo quase como uma deixis compartilhada, anacrônica e ainda assim histórica. De um lado, imagens obtidas por câmeras pinhole feitas de lata de leite, produzidas por jovens moradores da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, de outro, pinturas à óleo que, em sua maioria, expõem ambientes industriais da cidade e os corpos que ocupam esses espaços, nascidas das mãos de artistas, de certo modo, marginalizados.
O “Mão na Lata” é um projeto que se iniciou em 2003, fruto de uma parceria entre a fotógrafa Tatiana Altberg e a oscip Redes de Desenvolvimento da Maré. Em 2017, as séries “Da minha janela” e “Autorretratos Cor” foram expostas na mostra “Brasil por Multiplicação”, o 35º Panorama de Arte Brasileira, no MAM SP. As fotografias são sempre acompanhadas por um breve texto escrito por quem confeccionou a imagem, que carrega em si forte significância de um labor experimental e íntimo, tal teor pictórico é obtido não somente por se tratar de uma técnica manual e analógica, mas pelo fato de o objeto a ser apreendido pelo olho-câmera-olho é um entorno que, muito além de cercar os corpos desses artistas, compõem-nos. Ou seja, não há apenas uma finalidade de aprendizado, de domínio de uma técnica artística, mas uma apropriação da realidade.
A fotografia, de um modo geral, sempre me lembra o ato de observar uma cidade do alto (da janela de um arranha-céu), e essa ação de observar algo de muito longe é uma das atividades que nos evidencia veementemente o fato de estarmos excluídos do que olhamos, embora que fisicamente presentes. Do alto, para me sentir, então, presente no entorno, para que minha existência se atravesse pela coisitude dos objetos, para que eu me integre atomicamente na morfologia de tudo que eu vejo, fora de mim, é preciso que eu me identifique no que é visto, caso contrário eu me esqueço de mim e sou apenas paisagem, preenchida completamente do panorama volumoso abarcado pelos olhos. Se vejo, no entanto, essa mesma metrópole, da mesma alta janela, mediada agora por um vidro refletor que embala essa realidade e me devolve a consciência de mim, vidro que se torna um invólucro que me insere, espectralmente, na cena, eu me identifico.
Mas não é preciso um espelho, um vidro, para ver que os autores dessas fotografias se inseriram no espaço que os cerca. São fotos tiradas no ventre do aglomerado fervente de construções marginalizadas, apinhadas de desconfortos e desejos de fuga. Não é a visão de um mirante, axonométrica, é a visão térrea, uterina. É a visão que ameniza o fato de estarmos excluídos do que observamos, do nosso entorno, de nossa dimensão, de nossa coletividade, da alteridade. E, ao meu ver, as pinturas produzidas pelos integrantes do Grupo Santa Helena tem o mesmo caráter identitário, e, além disso, a mesma experimentalidade e o mesmo desejo de dominar técnicas de arte, a fim de edificar, para si e para o grupo, uma complexa linguagem, um tentáculo para se apropriar do mundo, identificar-se, produzir obras que são fragmentos de Eu (um Eu inserido no espaço), pontes estáveis para toda a gente que vir essas obras se transportar para si mesma, e se entender no mundo, se entender capaz, se sentir apropriada de si e dos lugares.
Além desses dois grupos compartilharem esse mesmo empenho investigativo diante das técnicas de suas respectivas linguagens pictóricas, há também um enfrentamento em comum: a potencial desconfiança do público elitista e academicista (ou parte dele) à respeito de suas capacidades. De um lado, jovens periféricos de 11 a 17 anos de uma das maiores favelas cariocas, participantes de oficinas de arte, de outro, descendentes de imigrantes vindos da classe média baixa, moradores de bairros industriais de Sâo Paulo, em sua maioria operários e trabalhadores na área de mecânica, ou artesãos e decoradores, obtendo sustento à partir da produção de artes aplicadas, e que se reuniram em um palacete na Sé a fim de compartilhar aprendizados e desenvolver práticas em pintura e escultura.
Por fim, considero as produções de ambos os grupos muito comprometidas com a construção de um saber técnico, coisa que transparece na construção de imagem, e que firma um chão comum, um propósito, entre os integrantes dos respectivos coletivos, o propósito de aprender e se comunicar. Para além, esse saber tece as relações de seus corpos e vivências com os espaços que observam, e acaba por entrançar as relações desses espaços íntimos, subjetivos, identitários com os nossos olhos.
[Legendas das fotos]
¹Fotografias (da esquerda para a direita):
1 – “Vejo da minha janela casas sobre casas e muitos fios. Casas bonitas ou feias continuam sendo casas. Da minha janela vejo janelas de todos os tipos.“ Augusto Araújo. Fotografia analógica.
2- “Meus pais acordam, acendem a luz. Os passos fortes deles me incomodam e atrapalham o meu sono. Sem conseguir dormir, me levanto e vou direto pra minha janela.” Jailton Nunes. Fotografia analógica.
²Pinturas (da esquerda para a direita):
1 – “Uruguaiana” (1945), óleo sobre tela, Bonadei.
2- “Alto da Cantareira” (1937), óleo sobre tela, Manoel Martins
Letícia Parente // Geraldo de Barros
O corpo que brinca com a logos

Tanto a imagem retirada do vídeo “Preparação 1”, de Letícia Parente, como a fotografia/desenho “A menina do sapato”, de Geraldo de Barros, remetem-me às “paper bags” de Saul Steinberg, as quais, para mim, são deliciosamente lúdicas. Existe algo de brincalhão em se trabalhar desenhos e recursos simples, jogando com formas pré-existentes, explorando as potencialidades das linhas e das fotografias. Os rostos desenhados por Bruno Munari também traduzem muito bem essa investigação criativa que tem muito do infantil, da descoberta de novos movimentos, de junções experimentais. Portanto, a relação que enxergo entre Letícia Parente e Geraldo de Barros é puramente pictórica, e irei aqui discorrer sobre as qualidades estéticas que nascem desse lúdico lance de dados traduzido na obra desses artistas.

Letícia Parente é uma artista baiana, nascida em 1930, sete anos mais nova, portanto, que o paulista Geraldo de Barros. É uma das referências em vídeoarte no Brasil, sendo pioneira e pesquisadora da linguagem. Uma de suas videoperformances mais icônicas é “Marca Registrada”, na qual a artista costura palavras na pele da sola dos pés.
O que há de lúdico, no entanto, em costurar a própria pele à agulha e linha? E de que forma isso dialoga com as obras de Geraldo de Barros, ou com uma certa tradição pictórica que una, esteticamente, a linguagem de ambos?
Bem, primeiramente, é realmente uma imagem agônica, contudo, eu me lembro de que quando eu era criança e via uma agulha, eu ficava a atravessando pela pelinha grossa que fica na pontinha dos dedos (e tenho certeza que não sou a única que fazia isso). Mas não é às relações literais que me refiro. Mesmo sendo uma imagem aflitiva, existe um pensamento construtivo que remete ao brincar pelo fato da simplicidade, do processo volátil e fluído que é o improviso de narrativas. A composição acontece. Além de construída, a composição é contada, feito uma história. A obra se desenrola fazendo uso de objetos corriqueiros, banais, os quais têm como suporte o próprio corpo. É muito próprio da criança contar histórias com objetos que estão ao alcance, tudo o que ela precisa é de si própria e do ambiente. A brincadeira é uma estrutura repleta de vazios, é um cadavre exquis, é uma história contada que primeiro acontece e só depois “faz sentido”, sendo uma narrativa disposta em “furos”, com um “enredo” maleável e reativo.
Além de tudo, a imagem de uma palavra costurada ao pé de alguém é absurda, é bizarra. Esse leve sopro de surrealismo aparente, de uma certa aleatoriedade que é depois engolida por nosso intelecto e deixa de ser uma surpresa disparatada, nos deixa em alerta para as formas do cotidiano. Suportes como vídeo e fotografia são muito ricos nesse quesito, por conta de uma maior amplitude nos jogos de realidade, como ocorre na técnica da colagem, que pressupõe o choque, o conflito de imagens heterogêneas e contraditórias a fim de que o fruidor reflita sobre os respectivos status quo, as ambiências originais que pariram tais ícones paradoxais, a ontologia dos símbolos, seus significados e as mutações em seus significados quando realocados para outras realidades.
Assim, os vídeos de Letícia Parente têm uma potência política, não por conta do que se pode apreender através do intelecto racional (que não deve ser deixado de lado), mas do que se pode extrair das sensações que nos acometem ao vermos os elementos visuais que acontecem na obra. Ao ver a linha acontecer sobre a carne. Nessa perspectiva, a do acontecer, a obra de Geraldo de Barros nos revela a sombra acontecendo sobre as superfícies. Retornamos à obra aberta, às lacunas, ao vazio, ao Ma e Basara, ao deixar com que o olhar do espectador participe do acontecimento (mesmo estático). É uma construção que revela uma plasticidade performática, pois é estruturada à partir de objetos que “estão ao alcance”, pois nos situa em um movimento, em um processo, e não apenas na imagem/produto. É lúdica. E, por tal motivo, bota-nos a trabalhar o próprio olhar. Faz-nos apropriar do que é visto.
Ao olhar para a obra de ambos eu sou remetida violentamente à Mallarmè, à Cortazar, à jogos de amarelinha (não o livro, o jogo mesmo), ao teatro de sombras chinês e às brincadeiras de criança, ao faz de conta. Há também de se mencionar preto e branco da obra de Letícia e Geraldo, além do uso de imagens reais e suas interferências. Ambos abusam do recurso de claro e escuro, deixando a realidade gravada à luz mais próxima da qualidade de desenho, de bidimensionalidade. No que se diz à respeito de uma tradição pictórica, tanto a linguagem da vídeoarte como o pensamento lúdico de se brincar com as formas básicas (remontando à Bauhaus, ao concretismo e ao cubismo) foram muito apropriados por neoconcretistas como Hélio OIticica e Lygia Pape.
______________________________________________________________________
Jaime Lauriano // Hélio Oiticica
O corpo, o diálogo dos transobjetos

Em outubro de 1963, Oiticica escreveu sobre seu trabalho “Bólides”:
O conceito de transobjeto apresentado por Oiticica nesse fragmento é, para mim, fundamental para entender não só sua obra mas toda prática de apropriação de materiais pré-existentes (industriais, geralmente), os quais já têm em si um discurso, já estão inseridos em um circuito e carregam uma funcionalidade específica. Mas o legal é que não há a superação e obliteração desse discurso ontológico/ ontogenético da matéria, mas sim a incorporação desse “à priori”. A obra não sobrepuja seu próprio corpo, há aí uma relação de paridade. Escolhi o artista Jaime Lauriano (São paulo, 1985), para articular essa reflexão, pois considero que o uso que o mesmo faz de objetos “prontos” ou mesmo de objetos que se tornaram indissociáveis de seu inicial contexto. Na foto acima, ao lado esquerdo do registro de alguns dos Bólides de Hélio Oiticica, há a obra “Experiência Concreta #2 – diálogo de mãos”, de Jaime Lauriano.
Na imagem em questão, vemos o uso de diversos fios (os mais comuns) para projetar um espectro de algema/mordaça. Temos contato com a significância coloquial da matéria utilizada e com o discurso que a molda, transformando-a em algema, vertendo a ideia de utilitário para uma imagem densa. É importante dizer que Jaime é um artista negro, e que aborda o racismo estrutural, a brutal repressão militar e o genocídio de jovens negros. A visão de “Experiência Concreta #2” logo desperta essa discussão, a materialidade da composição dialoga conosco, relata-nos o novo ideário emanado pelo todo da obra. Sua série “Autos de Resistência”, na qual o principal material é madeira esculpida e envernizada (daquelas que artesãos gravam os nomes dos clientes, que vão pendurar o adereço em algum lugar da casa), faz um jogo de signo e significado, explorando, por meio do objeto, as relações de poder envolvidas na atividade dos artesãos, em sua maioria pessoas advindas da classe baixa. Tal objeto é, também, muito “brasileiro”, estando fortemente conectado com todo um sistema de costumes e um circuito comercial de artesanato (muito comum no litoral, inclusive).
Assim, o transobjeto é um território, não somente carrega em si um discurso, não só é constantemente ressignificado, tampouco apenas se relaciona com o ambiente, mas acaba também por ser um território conceitual, uma alocação, a qual é definida por suas relações internas e externas.

Acima, duas serigrafias. A primeira levando o nome de “Queime depois de ler” (serigrafia sobre flanela de algodão), de Jaime Lauriano, a segunda, de Hélio Oiticica, a obra “Bandeira-poema”, ícone da marginália de 1968. A serigrafia de Hélio conversa bastante com seu texto “Esquema Geral da Nova Objetividade”, no qual expõe a ideia de “tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos” (quarto item, dos seis itens) “retomada da antiarte”, tensionando a problemática da finalidade da obra (a quem ela “serve”) e reconhecendo que o objeto artístico deva esgarçar não só a moralidade judaico-cristã conservadora, mas também as convenções cristalizadas do meio artístico. E que, portanto, sim, deva expor temas políticos. Nesse sentido, a serigrafia de Jaime dialoga bastante com as ideias de Hélio na Nova Objetividade, pois, além de tudo, foge do quadro de cavalete, e recorre ao objeto, pegando carona na visualidade simplória da flanelinha e brincando com a ideia de queimar a própria obra, por ela própria ser um “ingrediente” do coquetel molotov.
LOEB, Angela Varela. Os Bólides do programa ambiental de Hélio Oiticica. ARS (São Paulo), São Paulo , v. 9, n. 17, p. 48-77, 2011 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-53202011000100004&lng=en&nrm=iso>. access on 03 July 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S1678-53202011000100004.
http://pt.jaimelauriano.com/biografia
http://tropicalia.com.br/ruidos-pulsativos/marginalia
FOUCAULT, Michel. De espaços outros. Estud. av., São Paulo , v. 27, n. 79, p. 113-122, 2013 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142013000300008&lng=en&nrm=iso>. access on 02 July 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142013000300008.
—————————————–
